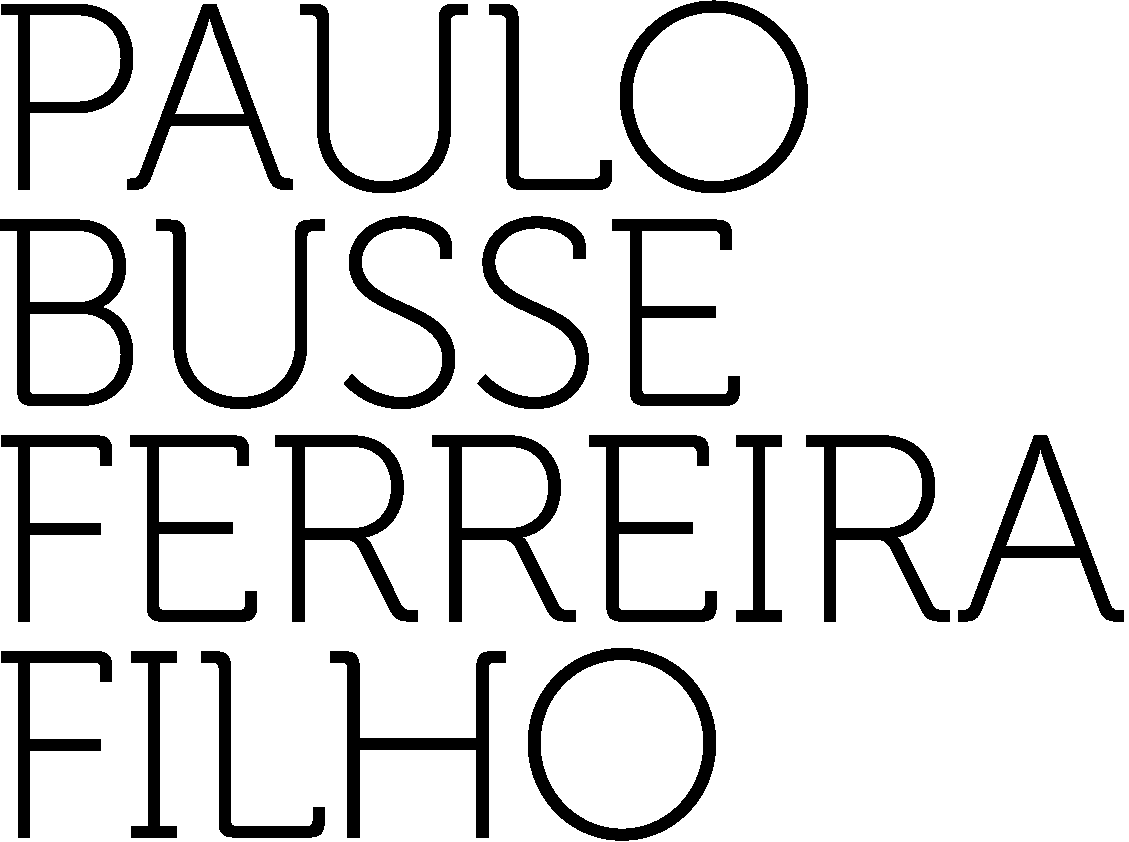O Brasil nunca foi capaz de promover processos plenos de justiça de transição sobre momentos obscuros e difíceis de sua história, como fizeram e ainda fazem Chile, Colômbia e Argentina. Preferimos fingir que não aconteceram e torcer para que não se repitam.
Começamos mas não concluímos algumas iniciativas isoladas de transição, como a Comissão da Verdade e a Comissão de Anistia. Não seguimos quase nenhuma recomendação da primeira e sofremos para manter viva e operante a segunda. Nunca ousamos incomodar os agentes da última ditadura com processos e julgamentos sobre os crimes que cometeram. Os militares ainda se protegem na Lei da Anistia, com o beneplácito do Supremo Tribunal Federal.
Como país, nunca encaramos de frente nossos traumas e parecemos condenados a revivê-los. Há ao menos duas transições históricas que deveríamos enfrentar:
Da última ditadura para a democracia (de 1985 até o presente); e
Violações de direitos humanos no contexto da destruição ambiental da Amazônia (da chegada dos portugueses em 1500 até os dias atuais).
Talvez uma terceira para tratar dos crimes do governo Bolsonaro. De certa forma, esta já acontece no Supremo em inquéritos em que Bolsonaro e membros de seu governo (incluindo militares) são investigados por crimes que cometeram ao longo dos quatro anos de seu mandato. Talvez o momento presente seja até uma dessas raras janelas que a história abre para revisitarmos os crimes mais antigos dos militares na última ditadura. E de, quem sabe, rever a relação estranha e complacente que sempre tivemos com eles, afastá-los de vez da política e submetê-los à ordem democrática.
Essas tragédias sociais precisam ser tratadas com especial cuidado em processos coletivos de memória e verdade, justiça e reparação, porque deixam marcas profundas que podem emergir mais à frente em forma de outra violência política. Este é o propósito da justiça de transição, que trabalha com métodos, abordagens, conceitos e técnicas multidisciplinares adequados às necessidades do contexto que investiga.
Sobre a violência histórica na Amazônia, contra o meio ambiente, sua biodiversidade e pessoas que lá vivem, a destruição começa na época colonial e continua em andamento. Algumas vítimas, como os indígenas, estão bem cientes disso. Dizem, com razão, que a colonização ainda não terminou. O fato de grande parte do país ainda a ignorar não vai fazer com que a devastação e suas profundas sequelas sociais e ambientais simplesmente desapareçam.
Se é verdade que a última ditadura (1964-1985) foi especialmente prejudicial ao meio ambiente e às populações tradicionais da Amazônia, também é verdade que a democracia igualmente falha (por erro, omissão e, às vezes, comissão).
Só em tempo muito recentes, percebemos que a proteção ambiental é importante, talvez porque já estejamos sofrendo na pele os efeitos da mudança climática decorrentes do desmatamento, uso reincidente de combustíveis fósseis e outros. Também estamos começando a entender que a destruição ambiental está intrinsecamente ligada às violações dos direitos humanos, e que ela própria é uma violação.
São bem-vindas as iniciativas do governo Lula de criar um ministério dedicado aos povos indígenas e de eleger a proteção ambiental e a defesa dos povos originários como prioridades. Mas ainda falta a adoção de políticas consistentes para promover a transição energética e nos livrarmos de vez dos fósseis, e para combater de frente os crimes na Amazônia. E, claro, medidas fortes para manter os militares longe da política e dentro dos quartéis. No Brasil, a proteção de nossa ainda frágil democracia passa por tudo isso e, em si, também deveria ser prioridade de qualquer governo.
A comunicação que apresentamos em 2022 ao Tribunal Penal Internacional expõe uma análise detalhada dos muitos crimes cometidos contra as populações tradicionais indígenas e não indígenas da Amazônia entre 2011 e 2021, retratando-os como fenômeno coletivo, interrelacionado e interdependente, que em seu conjunto caracteriza crimes contra a humanidade. Tratamos também de ecocídio, que ainda não é crime nem no Brasil nem na esfera internacional. Assim como não possuímos no direito brasileiro o equivalente a crimes contra a humanidade.
Os crimes na Amazônia podem ser considerados contra a humanidade porque são massivos, sistemáticos e generalizados, e promovidos por uma política organizacional (às vezes informal) formada por atores públicos e privados desde o ano 1500. Por razões jurídicas e metodológicas, optamos por trabalhar apenas com um período de dez anos. O conjunto de atrocidades elencadas dentro desse pequeno lapso da uma ideia do tamanho e extensão da tragédia que assola a região ao longo de mais de 500 anos.
Além de responsabilizar indivíduos (durante o governo Bolsonaro há mais claramente o elemento subjetivo), a iniciativa visa registrar histórias, catalogar fatos, propor novos conceitos (jurídicos e não jurídicos) e tornar tudo mais visível. E conscientizar as pessoas a respeito de um fenômeno histórico e coletivo que persiste e nos mantém doentes como nação.
Precisamos de uma justiça de transição para tratar das questões amazônicas, a destruição ambiental massiva (ecocídio) e as violações em larga escala de direitos humanos (crimes contra a humanidade) que sempre ocorreram na região. Precisamos pensar em dotar nosso ordenamento desses crimes maiores e mais abrangentes e que ainda não existem por aqui. Há cicatrizes e dívidas sociais muito profundas e arraigadas que se não revisitarmos em processos coletivos de memória, justiça e reparação, tendem a se perpetuar.
Historicamente, precisamos como país lidar com os seguintes problemas, entre outros:
Extermínio físico e cultural dos indígenas ainda em curso (genocídio indígena, como eles o chamam);
Destruição massiva do meio ambiente (ecocídio);
Crimes em massa contra todas as populações tradicionais da Amazônia (crimes contra a humanidade); e
Disputas por terras em meio à exploração desenfreada de recursos naturais.
A proteção ambiental abrange (ou se relaciona a) uma série de outros direitos: direito à saúde, direito à alimentação, direito à vida com dignidade, direito à terra ou a espaços de vida e moradia, direito à cultura, entre outros. É tema relevante não apenas para os seres humanos, mas também para a biodiversidade. Na visão indígena, o meio ambiente é um organismo vivo inseparável dos seres vivos, e deveria assim ser sujeito direto de proteção.
Nosso país definitivamente precisa de processos de transição, resgates e expurgos históricos fundamentais, para nos livrarmos de bagagens pesadas que nos mantém sempre com um pé preso no passado. Precisamos jogar luz a verdades históricas inconvenientes que insistimos em esquecer, sem esquecer. Só assim poderemos lidar com as consequências sociais de nossa última ditadura e dos crimes amazônicos, e reparar as muitas vítimas: os perseguidos políticos, os povos da Amazônia, o meio ambiente, etc.
Vítimas primordiais da colonização que nunca termina (na ditadura e na democracia), os povos indígenas são essenciais para a proteção ambiental. Onde eles estão, a natureza está mais protegida. Como mostram as fotos de satélite, onde há povos e territórios indígenas, as imagens são mais verdes. Ainda mais importante, eles são os detentores e guardiões de um conhecimento tão antigo quanto essencial sobre viver em harmonia com a natureza, que parece simples mas esquecemos e precisamos reaprender.
Qualquer pessoa ou grupo que vive na floresta é defensor do meio ambiente. Isso acontece com todos os tipos de populações tradicionais (indígenas e não indígenas). Defensores ambientais não são apenas ativistas que se manifestam sobre o tema, mas pessoas que simplesmente estão presentes no ambiente natural, desde que, é claro, estejam vivendo de forma harmônica e sustentável e não cortando árvores ou ateando fogos. Portanto, defender essas pessoas é indissociável de proteger a natureza.
Afinal, por que justiças de transição? Porque em alguns momentos históricos precisamos de jurisdições especiais para tratar de temas e contextos excepcionais que envolvam violações maiores, mais sérias e sistemáticas de direitos humanos. Nosso sistema de justiça comum simplesmente não é pensado para lidar com a histórica e massiva destruição ambiental e violações de direitos humanos relacionadas. Nem com os crimes cometidos por agentes do Estado em um período de exceção.
Precisamos de reformas legislativas que abram caminho para essas instâncias especiais que promovam mudanças jurídicas, institucionais, sociais e comportamentais. Ainda não temos em nosso sistema leis amplas e abrangentes o suficiente, como ecocídio ou crimes contra a humanidade. Pouquíssimos juízes, promotores, advogados e agentes do Estado possuem essas noções mais elevadas de justiça política e ambiental que considere as múltiplas faces e consequências das violações em larga escala de direitos humanos, na grande floresta ou nos porões da ditatura. As forças de segurança são despreparadas para lidar com esses temas. Não há ferramentas legais, conceitos jurídicos ou instituições públicas à altura dessas questões. Não há planos nacionais integrados e multidisciplinares. Não há comando e controle na região amazônica, nem na relação do poder civil com os militares. Assim como a Amazônia, as forças armadas parecem pertencer a um país independente.
Os objetivos dessas justiças de transição não seriam apenas a realização de julgamentos, mas também e especialmente a construção de verdade e memória em um país tão habituado a esquecer, o que poderia abrir caminho para a justiça e reparação das vitimas desses crimes históricos, como ocorre na Colômbia com a Jurisdição Especial para a Paz, experiência que conta com atores especializados em temas abrangentes e específicos, abordagens multidisciplinares, métodos restaurativos e até juízes indígenas para tratar das questões indígenas e ambientais. Um exemplo para todo o continente.